Para afastar a áurea do último post, um postezinho estilo isto aqui não passa de um blog. Estou demasiadamente ocupado com trabalhos e estudos por esses dias, daí a falta de tempo de escrever alguma coisa com mais substância. Mas logo a rotina de textos mais contundentes (ao menos subjetivamente contundentes) volta, assim que me desafogar um pouco. Os álbuns que se seguem também são mais que as capas: fomentaram boa parte de minha personalidade e de meus gostos estéticos, e, muitas vezes, salvaram minha vida (devo muito a superação do martírio de uma gagueira prostrante à terapia do rock: vocês não sabem o quanto Ian Anderson, Jim Morrison e Robert Plant são muito mais eficientes para correção de transtornos traumáticos na adolescência do que todo um grupo de fonoaudiólogos, psicólogos hipnotizadores e mesmeritas freudianos). O do Radiohead me pegou no fim da casa dos vinte anos, e não ofereceu uma catarse tão determinante da cura, mas sua capa é uma das mais enigmáticas e belas que conheço. Lá vai:

Radiohead_ Amnesiac
Nas aulas de filosofia que eu ministrava num colégio particular, para afastar o marasmo mental que matérias sérias da área provocavam naquelas mantes ociosas, propus certa vez que a turma interpretasse essa maravilhosa capa do Radiohead. Ainda vou pagar os olhos da cara por uma ampliação de qualidade dessa capa para pendurá-la na sala minúscula de meu escritórios nos fundos da casa. O desamparado homúnculo chorando por sobre um livro de lombada rasgada (excessivamente lido), a conjunção estrelar de seu destino rondando-o como um horóscopo programático, e o título estarrecedor... Não é o melhor disco do Radiohead (sou um dos que acham Ok Computer e In Raibows insuperáveis), mas essa capa é uma obra-prima que vale o investimento. A propósito, as respostas dos alunos para a interpretação me mostrou que nem tudo está perdido: estamos avançando para um destino de alienação e fraqueza dos poderes de concentração que não dispensa uma estranha criatividade.

Organisation_Orchestral Manoeuvres in the Dark
Não à toa esse álbum tem uma capa que parece de música clássica. Quem não conhece o OMD, mas assistiu ao Valsa com Bashir, deve ter se perguntado de quem é a música entusiástica da cena do barco. Pois bem, é Enola Gay, uma das músicas pop mais geniais de todos os tempos, e que é a abertura de tirar o fôlego desse disco. O restante do disco se compraz de sua classicitude e se adéqua perfeitamente ao clima soturno e de recolhimento da capa. Todas as nove faixas são excepcionais.
Who`s Next_ The Who
Eu sou devoto de Pete Townshend. Se me fosse dado escolher um avatar na minha juventude, seria a do líder do The Who. Sua letras são verdadeiras demonstrações do quanto letras de rock formam uma categoria própria de literatura. Mesmo no declínio de criatividade, lá para o final dos anos 70, ele escreveu algo tão lindo e profundo como a letra de It´s Hard. Mas em Who`s Next, de 1971, tudo é brilhante e altamente inspirado, tudo é eterno, desde a originalíssima mistura da mais elegante auto-consciência do papel do niilismo na juventude com uma estrutura da música minimalista americana, em Baba O´Riley, até a saga incomparável de Won´t Get Fooled Again. E a capa com os quatro mijando no monolito de 2001, Uma Odisséia no Espaço, me impressiona por tudo que sugere ainda hoje e quando eu estiver lá pelos meus 97 anos, finalmente lendo Grande Sertão: Veredas.
Unknown Pleasure_ Joy Division
Essa capa magnífica, em negro, sem indicação alguma de nomes, e com a pressagiadora e angustiante criptografia matemática dos últimos sinais de vida de uma estrela, traz no interior algumas das músicas mais lindas e demolidoras já produzidas. Não há quem não reconheça desde a primeira linha de baixo de que se trata de uma obra-prima, por mais que se seja avesso ao estilo. Um crítico, poucos meses antes do suicídio do vocalista Ian Curtis, já urucubaquisou tudo ao dizer que era a mais perfeita trilha sonora para se matar que já escutara. Não à toa se vê exaustivamente tal estampa reproduzida em camisas de magricelas nerds com as caras cobertas de espinha e os cabelos ensebados. Eu tive uma e a usei mesmo com um buraco do tamanho de um punho debaixo do sovaco. É um dos discos mais ouvidos pela galera aqui de casa, enquanto brincamos com blocos de montar esperando mamãe trazer as torradas com queijo e orégano, e o suco de cajá.
Morrison Hotel_ The Doors
Meu disco preferido dos Doors. Conheci-o aos 15 ou 16 anos, quando estava no carro de um amigo meu atulhado de outros adolescentes, e que enquanto andávamos por uma cidade interiorana o som do toca fitas transmitia essa magia singela que na época me deixou de queixo caído por sua leveza e força. Então essa é a contrapartida americana aos Beatles, pensei. Naquela época era coisa de rico importar um vinil destes, e esse amigo o tinha e o gravou em cassete para mim. Minutos depois dessa descoberta, o mesmo amigo nos levou para uma estrada vicinal e, num comboio de outros carros lotados de jovens, cerimoniou um ciclo de cavalos de pau a altíssima velocidade até de madrugada. Eu estava bêbado, assim como todos os outros, e ria igual um louco, enquanto abaixávamos as cabeças e nos segurávamos onde tinha para se segurar. No ano seguinte, em que não pude ir passar ali as férias do colégio, aconteceu a hoje histórica tragédia da cidade de Jaraguá, em que todos esses amigos morreram na sessão de proezas a alta velocidade pelas mesmas estradas. Bem aventurados nós que sobrevivemos à juventude! Mas eu tinha um surrado casaco de feltro igual a um do Morrison, e os cabelos compridos...

Ummagumma_ Pink Floyd
Uma das capas que perdeu em muito com a transposição do vinil para o cd. Alguns anos atrás lançaram uma coletânea dupla da banda usando a referência dos símbolos dessa capa. No vinil, o álbum se abre para uma foto central também muito bonita, da banda de frente a um caminhão cheio de caixas de som. Contém o melhor disco ao vivo do Pink Floyd, com quatro faixas viajandonas, e um outro disco com experimentações individuais de cada integrante da banda não muito entusiasmante. Como as músicas começam muito lentas, na minha primeira audição tive que colocar o volume no máximo. Recomendo veementemente que não façam isso, principalmente na faixa Careful with that Axe, Eugene, em que lá pelos 9 minutos de quase silenciosa e envolvente atmosfera, Roger Waters dá, de súbito, o mais aterrorizante grito já registrado da história. O zelador do prédio onde mora minha mãe, o saudoso Zé (que morreu, infelizmente, no sábado passado), interfonou de imediato para mim, pois os vizinhos acharam que enfim o adolescente sorumbático havia cumprido o que todos os prognósticos apontavam.

Every Good Boy Deserves Favour_ The Moody Blues
O Moody Blues foi o mais comportado dos grupos de rock progressivo. Se fosse compará-lo a um escritor, seria Bruno Schulz. Mais uma vez a capa reproduz fielmente as músicas, com sua estação na infância e nas nostalgias místicas a ela atribuída. Um amigo definiu bem a maneira ideal de se ouvir esse belo álbum: apagando-se as luzes, deitando-se no tapete do chão, em disposição de total relaxamento.
Fruit Tree_ Nick Drake
Nesta caixa está tudo já gravado por esse compositor e cantor inigualável. Eu a tinha em download FLAC, em 320 kbps, e finalmente a comprei na metade do ano passado. Devo um post exclusivamente para falar o quanto essas músicas me tocam. Walter Benjamin cita um poeta que disse que para cada homem existe uma imagem que faz o mundo inteiro desaparecer. Pois a música de Drake faz o mundo desaparecer para mim. Convido a qualquer um a ouvir Northern Sky e resistir a uma lágrima fugidia. Ainda pairam dúvidas sobre o suicídio de Drake, e um dos que contestam essa causa de sua morte usa o argumento de que quem compôs uma canção tão cheia de deslumbramento pela vida como Northern Sky jamais se suicidaria. Vou deixar para falar mais dele num texto futuro. Ao contrário do post irmão anterior, esses discos não estão dispostos por ordem de relevância pessoal. Esses quatro discos estão entre os dez melhores de todos os tempos. Lembram da cena em que um dos filhos Tenembaums coloca a agulha sobre um vinil antes de mais uma tentativa de suicídio malograda? Lembram da música sublime que arrepia os cabelos da nuca no grande salão escuro e gelado do cinema? Drake:
Fly
Please give me a second grace
Please give me a second face
I've fallen far down
The first time around
Now I just sit on the ground in your way
Now if it's time for recompense for what's done
Come, come sit down on the fence in the sun
And the clouds will roll by
And we'll never deny
It's really too hard for to fly.
Please tell me your second name
Please play me your second game
I've fallen so far
For the people you are
I just need your star for a day
So come, come ride in my street-car by the bay
For now I must know how fine you are in your way
And the sea sure as I


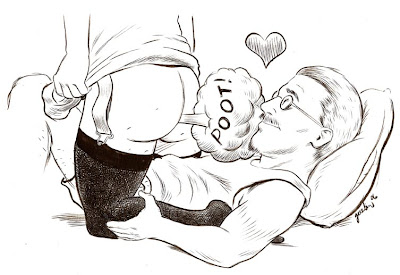





.jpg)












